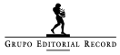Notícias
Corpo Ancestral de Maikon K, em Curitiba Ópera “Os Mestres Cantores de Nuremberg” e o Ballet Bolshoi “A Lenda do Amor” ao vivo Maratona de filmes da trilogia “O Hobbit” em dezembro na UCI UCI Cinemas exibe show “Queen Rock Montreal” em alta definição Exibição, ao vivo, de “O Barbeiro de Sevilha” na UCI Cinemas Combo Especial “Jogos Vorazes: A Esperança — Parte 1” Vendas antecipadas para o documentário “David Bowie Is”Mais Notícias »