Notícias
Corpo Ancestral de Maikon K, em Curitiba Ópera “Os Mestres Cantores de Nuremberg” e o Ballet Bolshoi “A Lenda do Amor” ao vivo Maratona de filmes da trilogia “O Hobbit” em dezembro na UCI UCI Cinemas exibe show “Queen Rock Montreal” em alta definição Exibição, ao vivo, de “O Barbeiro de Sevilha” na UCI Cinemas Combo Especial “Jogos Vorazes: A Esperança — Parte 1” Vendas antecipadas para o documentário “David Bowie Is”Mais Notícias »











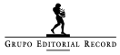

Mukashi Mukashi* | Crônica
Seu nome, Miya, deveria ter sido Miyako. Na época em que nasceu, era proibido às japonesas nascidas no campo usarem o ideograma KO [子]. O uso era permitido apenas às mulheres de origem nobre. O ideograma miya [宮] significa templo xintoísta, príncipe ou princesa da família imperial. Sua mãe, Masa Sato, era de família nobre. […]