
Seu nome, Miya, deveria ter sido Miyako. Na época em que nasceu, era proibido às japonesas nascidas no campo usarem o ideograma KO [子]. O uso era permitido apenas às mulheres de origem nobre. O ideograma miya [宮] significa templo xintoísta, príncipe ou princesa da família imperial. Sua mãe, Masa Sato, era de família nobre. […]











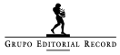

Canta tua aldeia | Crônica
Em Paranaguá, minha cidade natal, ainda não há ciclistas, clicloativistas, nem bikeiros. Há pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. É uma sensação confortável estar na minha cidade natal com músicos na praça e bicicletas. Em vez de ouvir “The Wall”, eu penso em “Cinema Paradiso”. Em breve esta aldeia será igual a […]