
Nestes dias de superlua e pôr-de-sol alaranjado todos olham para o céu. Diante de fenômenos astronômicos e geofísicos extraordinários voltamos a ser mulheres e homens paleolíticos, embasbacados pelo poder das forças naturais, Passamos a girar em torno de satélites, astros e estrelas do zodíaco. Não como simples consulentes de horóscopos, mas como seres deslumbrados sob […]


















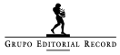

Canta tua aldeia | Crônica
Em Paranaguá, minha cidade natal, ainda não há ciclistas, clicloativistas, nem bikeiros. Há pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. É uma sensação confortável estar na minha cidade natal com músicos na praça e bicicletas. Em vez de ouvir “The Wall”, eu penso em “Cinema Paradiso”. Em breve esta aldeia será igual a […]